Entrevista Roger Chartier

Roger Chartier é professor emérito do Collège de France, da École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) e Annenberg Visiting Professor na Universidade da Pensilvânia. O seu campo de estudo é a cultura escrita na primeira modernidade (séculos XVI-XVIII): história dos textos, da edição e da leitura.
Estará em Portugal de 26 a 30 de maio, onde participará em vários encontros em torno dos livros, da história e do pensamento.
-
Segunda-feira, 26 de maio | 18h00 | Biblioteca Nacional de Portugal
Participação no lançamento da revista Electra – Com Antonio Guerreiro e Diogo Ramada Curto -
Terça-feira, 27 de maio | 9h30 | Academia das Ciências de Lisboa
Conferência inaugural “Cervantes ou a importância dos Clássicos” seguida de mesa-redonda “A atualidade dos clássicos: Cervantes e Camões”
Com Isabel Almeida, Henrique Leitão e José Bernardes
Colóquio “Camões e as Ciências” -
Quinta-feira, 29 de maio | 19h00 | Nouvelle Librairie Française
Ciclo de conferências “Et si l’on parlait de… livres et de lecteurs/trices”
Diálogo entre Roger Chartier e Alberto Manguel -
Sexta-feira, 30 de maio | 19h00 | Mediateca do Institut français du Portugal
Apresentação da tradução portuguesa de Ouvir os mortos com os olhos de Roger Chartier (ed. Tinta-da-China)
Com Roger Chartier e Rui Tavares
Antes da sua chegada, Guillaume Boccara, adido de cooperação universitária e científica do Instituto Francês de Portugal, encontrou-se com ele. Juntos, conversaram sobre história cultural, materialidade do livro, novos modos de leitura e a noção de autor.
Guillaume Boccara:
Caro professor Roger Chartier, estará muito brevemente em Portugal (cf. programa online) para uma série de atividades (conferências, seminários, mesas-redondas) entre Lisboa e Coimbra. A sua obra, rica e original, centra-se na história do livro e da cultura escrita, integrando uma abordagem simultaneamente social e cultural da história. Poderia explicar-nos brevemente o que se entende por história cultural?
Roger Chartier:
Definir de forma clara e única a história cultural não é simples, porque a própria definição de cultura é problemática. A cultura pode ser entendida, por um lado, como o domínio específico das criações intelectuais e artísticas, ou, por outro lado, como o conjunto de símbolos, concepções e práticas que organizam as relações das comunidades e dos indivíduos com o mundo social, a natureza ou o sagrado. O que caracteriza a “história cultural” reside, sem dúvida, na articulação entre estas duas definições. Daí a sua dupla dimensão, seguindo Carl Schorske: situar cada obra intelectual ou estética na sua relação com as que a precederam (imitação, paródia, ruptura) e inscrevê-la no conjunto das representações e experiências sociais que constroem os seus significados. Esta perspetiva permite deslocar ou apagar as fronteiras que delimitam de forma demasiado rígida e compartimentada diferentes histórias: história das ideias, história da arte, história da educação, etc. Esta abordagem ganha sentido no estudo de objetos particulares: uma obra literária, filosófica ou artística, as modalidades de publicação e circulação de textos ou imagens, ou uma prática social — por exemplo, a leitura.
Guillaume Boccara:
É conhecido e reconhecido internacionalmente pelas investigações que desenvolve há várias décadas sobre a história do livro ou, para usar as suas próprias palavras, sobre a história “das formas e dos suportes da escrita e das maneiras de ler”, bem como “das formas que conferem existência aos livros e das apropriações que os investem de sentido” (cf. Ouvir os mortos com os olhos, Aula inaugural no Collège de France proferida em 2007, traduzida e publicada pela editora portuguesa Tinta-da-China em maio de 2025). Poderia explicar-nos em que medida a materialidade e as diversas formas do livro são absolutamente essenciais para compreender o papel que a cultura escrita e a leitura desempenharam na história, nomeadamente na construção dos Estados, das burocracias e da esfera pública? Porque tendemos a interessar-nos mais pelo conteúdo de um livro do que pela sua materialidade. E o professor alerta-nos: atenção! “rolo”, “códice”, “livro digital”, não são a mesma coisa…
Roger Chartier:
As obras parecem atravessar o tempo permanecendo sempre idênticas a si mesmas. Hamlet é Hamlet para todos os que, ao longo dos séculos, viram, leram, representaram ou comentaram a peça. No entanto, o encontro com esta obra foi sempre mediado pela sua leitura numa edição particular, pela sua audição numa encenação específica, pela sua descoberta numa língua que não é necessariamente a do dramaturgo. David Scott Kastan designou como “platónica” a conceção que considera que as obras transcendem todas as suas possíveis encarnações e como “pragmáticas” as relações estreitas entre a construção do significado das obras e as formas da sua publicação.
Para mim, a mobilidade dos textos e a materialidade das obras estão intimamente ligadas e obrigam-nos a considerar cinco razões que produzem a pluralidade de textos de uma mesma obra: o regime da sua atribuição, entre nome de autor e anonimato; as variantes textuais de uma edição para outra; as formas materiais da sua publicação e circulação; as migrações de uma “mesma” obra entre géneros e entre línguas; e, finalmente, as expectativas, modalidades e práticas de leitura.
Todos os textos, literários ou técnicos, religiosos ou administrativos, científicos ou filosóficos, foram transformados, em graus diversos, por estas variações. Esta foi a razão de ser da minha cátedra no Collège de France e o objeto central das minhas investigações, publicadas ou em curso.
Guillaume Boccara:
Nesta mesma Aula inaugural de 2007, na qual enunciou aquele que viria a ser o seu programa de investigação no âmbito da Cátedra “Escrita e culturas na Europa moderna”, observa que, embora a leitura já tenha conhecido várias revoluções — nomeadamente a passagem do rolo para o códice — a que vivemos hoje com o digital e o livro eletrónico tende a operar mudanças sem precedentes. E, contrariamente ao que se possa pensar, afirma que a leitura diante do ecrã “não é a herdeira longínqua das práticas permitidas e suscitadas pelo códice”! Poderia explicar-nos por que razão a textualidade digital apresenta desafios radicalmente novos que tendem a alterar profundamente as nossas formas de ler, de nos emocionarmos através da leitura, de nos relacionarmos com os outros e, por fim, e não menos importante, de concebermos a própria noção de autor/a?
Roger Chartier : Ao romper o antigo laço entre o texto e o objeto onde está inscrito, entre os discursos e suas materialidades próprias, o mundo digital obriga a uma radical revisão dos gestos e das noções que associamos à escrita. Não devemos menosprezar a originalidade do nosso presente. As diferentes transformações da cultura escrita que no passado foram sempre separadas se apresentam simultaneamente no universo digital. A revolução da comunicação eletrônica é ao mesmo tempo uma revolução da técnica de produção e reprodução dos textos, uma revolução da materialidade e da forma de seu suporte e uma revolução das práticas da leitura. Se estabeleceu assim uma nova ecologia da escrita, caracterizada por vários rasgos.
O primeiro é o uso do mesmo suporte para ler e escrever. No mundo pre-digital eram separados os objetos destinados à leitura dos textos impressos (os livros, revistas ou jornais) e os objetos que recebiam as escrituras pessoais (folhas, cadernos, cartas). No mundo electrónico, é sobre a mesma tela que se associam estreitamente as duas práticas dos novos “wreaders”, leitores que escrevem e escritores que leem. Uma segunda característica do mundo digital estabelece uma continuidade morfológica entre a diferentes categorias de discurso: mensagens das redes sociais, informações dos websites, livros ou artigos electrónicos. Desaparece assim a percepção de sua diferença a partir de sua materialidade própria. Esta continuidade apaga os procedimentos tradicionais da leitura, que supõem tanto a compreensão imediata, graças à sua forma publicação, do tipo de conhecimento ou prazer que o leitor pode esperar de um texto, quanto a percepção das obras como obras em sua identidade, totalidade e coerência. Daí, uma terceira característica. Sobre a superfície luminosa da tela aparecem fragmentos textuais sem que se possa ver imediatamente os limites e a coerência do texto ou do corpus (livro, número de revista ou de periódico) de onde são extraídos. A leitura descontinua, segmentada, dos textos digitais da autonomia aos fragmentos, transformados em unidades textuais descontextualizadas.
É a razão pela qual devemos convencer as instituições, os poderes públicos e os leitores de hoje que as várias formas de inscrição, publicação e apropriação dos escritos não são equivalentes e que, por onde, uma não pode ou não deve substituir-se a outra.
Com a inteligência artificial generativa se encontram ameaçados os conceitos fundamentais da cultura escrita definida a partir do século XVIII pela ligação entre as noções de originalidade das obras, de responsabilidade autorial e de propriedade intelectual. O mundo da IA está caracterizado pela disponibilidade pública dos escritos, pelo anonimato da escrita automática e pelo reuso ou plagio dos textos já escritos. Assim, a revolução dos agentes conversacionais é não somente uma revolução técnica do acesso a informação (como foram a aparição da escrita, a invenção da impressa ou a revolução da internet), senão também uma ruptura radical com as categorias mais essenciais que construíram nossa ordem dos discursos.
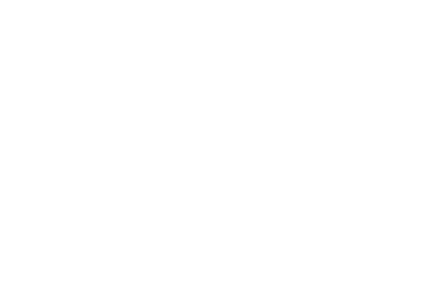
 Debate de ideias
Debate de ideias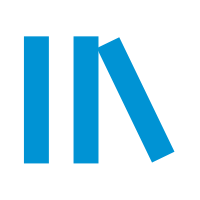 Livro
Livro
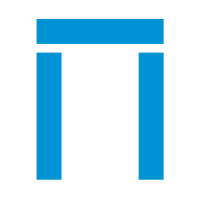 Arquitetura
Arquitetura Artes visuais
Artes visuais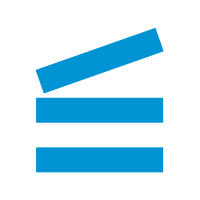 Cinema
Cinema Digital
Digital Espectáculo ao vivo
Espectáculo ao vivo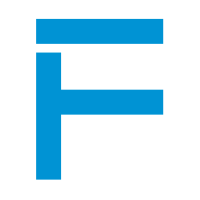 Francês
Francês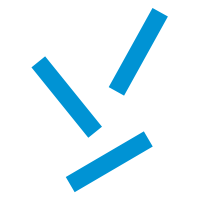 Institucional
Institucional Música
Música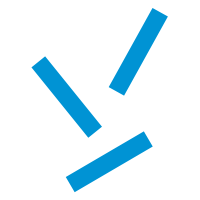 Não classificado
Não classificado